
Entrevista a Vasco Sacramento
Estudou Direito na Universidade Católica, mas foi a música que falou mais alto. Se a carreira académica não previa um futuro na área, as aulas de piano e flauta transversal que teve na infância já adivinhavam o seu rumo. Foi num almoço de família em casa da avó, durante o último ano de curso, que ditou o seu destino. Ao recordar o concerto que assistiu do sérvio Goran Bregovic resolveu trazê-lo a Aveiro, contactou a agente e embora a falta de disponibilidade do artista sentiu que esse foi o momento em que tudo começou. Dessa vontade e, nesse mesmo ano, nasceu o “Sons em Trânsito”, festival de músicas do mundo que marcou Aveiro e uma geração. Vasco Sacramento tinha apenas 24 anos. Fê-lo sozinho, com a ingenuidade própria da idade. Trouxe a Aveiro Susana Baca, o Trio Mocotó, Katia Guerreiro, a Fanfare Ciocarlia da Roménia – a sua primeira lotação esgotada. O festival foi um sucesso e no ano seguinte o Teatro Aveirense convidou-o para organizar a segunda edição. A partir daí foram-se abrindo portas e outros trabalhos começaram a aparecer fora da cidade. Em 2004, foi convidado para programar a Tenda Raízes, o palco world music do Rock In Rio Lisboa.
O responsável pela produtora Sons em Trânsito recorda que nos primeiros dois anos trabalhava em nome individual, tendo apenas criado a empresa em 2005. Com dezasseis anos de história e cerca de 500 espetáculos produzidos por ano em mais de 50 países, a “Sons em Trânsito” está sediada em Aveiro e dedica-se ao agenciamento, produção de espetáculos e gestão de carreiras artísticas. Ao seu comando, a empresa tem feito um caminho de sucesso e de grandes desafios como o último espetáculo solidário que organizou para ajudar as vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande. Em entrevista à Litoral Magazine, Vasco Sacramento fala-nos desse percurso e dos desafios atuais como a adaptação às mudanças sociais, culturais e económicas criadas pela chegada das novas tecnologias.
Muita coisa mudou nestes dezasseis anos…
Sim…no início era apenas eu, neste momento somos vinte e dois a trabalhar aqui dentro. O mundo também mudou muito.
Quais os momentos que marcaram esta mudança?
Diria o primeiro festival “Sons em Trânsito”, o ano em que fiz o “Rock in Rio Lisboa”, a entrada dos Deolinda na Sons em Trânsito, porque comecei a fazer agenciamento e gestão de carreiras e isso foi o que na última década trouxe maior visibilidade à empresa. A chegada de artistas como a Ana Moura, o Pedro Abrunhosa, o António Zambujo e a Luísa Sobral. E mais recentemente, termos ganho a gestão do Capitólio, em Lisboa.
É uma casa histórica. O que podemos esperar num futuro próximo?
A sala está a funcionar e está a correr muito bem. Fizemos uma candidatura, que durante cinco anos será muito baseada na música, no cinema e no humor. A música para já tem ganho algum relevo, quer por ser a área onde nos sentimos mais confortáveis, quer por ser a arte de palco com maior autonomia financeira. O que pretendo é que a sala consiga entrar na agenda cultural da cidade e que seja um espaço incontornável em Lisboa e no país. E acho que isso já estamos a conseguir.
Há bem pouco tempo a propósito do desastre dos incêndios em Portugal, criaram o concerto solidário no Meo Arena. O que vos moveu a fazê-lo?
Foi algo impulsivo. Os incêndios foram num sábado à noite e eu tinha um concerto em Ovar com a Rita Redshoes. Quando entrámos estava tudo bem, mas quando o concerto acabou olhei para o telemóvel e li uma notícia que falava da morte de pessoas. Comentámos a tragédia entre todos e na manhã seguinte, quando acordei, tinha uma mensagem do Tiago Cação, um dos meus funcionários: “temos de fazer alguma coisa!”. A partir daí, não sei explicar, foi algo intuitivo. A primeira coisa que fiz foi ligar para o diretor da Meo Arena – que estava no meio de um jogging em Cascais – a perguntar se alinhavam em fazer algo. Ele disse que sim. A seguir liguei para a RTP, que também respondeu afirmativamente. Depois disso foram nove dias de absoluta loucura, em que tivemos de trabalhar em média dezassete horas por dia. Organizámos algo gigantesco, que normalmente demoraria seis ou sete meses. Ao todo estiveram envolvidas oitocentas pessoas, das quais vinte e cinco foram artistas, três televisões em sinal aberto e as rádios a cobrirem o evento.
Foram vocês que coordenaram tudo e isso é impressionante. O que sentiu no dia seguinte?
No próprio dia senti uma grande responsabilidade porque queria que corresse bem, se bem que na véspera já estava tudo mais ou menos controlado. Avançámos no domingo e o espetáculo foi na terça-feira da semana seguinte. Lembro-me que a meio da semana o stress foi maior. Estávamos a criar algo grande, que crescia cada vez mais, e ainda haviam muitas pontas soltas. Contudo, na véspera sentimos que tínhamos as coisas controladas. No dia do espetáculo estava ansioso, a meio da tarde comecei a relaxar, mas claro que à noite sabia que, se alguma coisa falhasse, o trabalho não tinha valido de nada. No dia a seguir ao evento senti-me bem, senti que tínhamos feito algo inédito.
E foi algo inédito. Que momento recorda como o mais especial?
Para mim, o momento de maior alegria e orgulho foi a abertura da emissão das rádios feita pelo António Macedo, o Nilton e o Vasco Palmerim. Montámos um estúdio comum e convidaram-me para a emissão. Quando começámos no domingo eu tinha um almoço de família, que arruinei completamente porque passei o dia inteiro ao telefone. Na altura ter as três televisões juntas já parecia uma coisa tão longínqua, que nem pensávamos nas rádios…
Estava tudo com a mesma energia e talvez tenha resultado por isso, porque todos queriam que corresse bem… Demos aquele espetáculo gigantesco sem gastar um euro. O único dinheiro que gastámos foi com as despesas de estrutura da empresa. No dia do concerto conseguimos servir 800 jantares por causa dos apoios que tivemos. Ninguém cobrou nada e isso foi notável.
Criou o “Sons em Trânsito” que esteve parado durante nove anos, a última edição foi em 2007. Porquê esta ausência temporal tão grande?
O festival esteve parado por causa da conjuntura da altura, ano em que a crise rebentou a nível mundial. Para acontecer em Aveiro, o “Sons em Trânsito” necessita de apoio de empresas ou camarário, até porque Aveiro não tem uma sala suficientemente grande para um festival desta envergadura.
Acha que Aveiro precisa de um multiusos? Sente que existia público para isso?
Acho que é urgente. Não pode ser um multiusos do tamanho da Meo Arena, mas acho que Aveiro precisa de uma sala multidisciplinar com capacidade para 1500, 2500 espectadores. Enquanto empresário, às vezes faço coisas noutras cidades, que gostaria muito de fazer na minha, e não posso porque não há nenhum espaço que albergue as necessidades, não só de público, mas também técnicas e logísticas.
Mas acha que há artistas que não vêm atuar a Aveiro por não haver uma sala desse tipo?
Sim. Acho que há espetáculos que pela sua complexidade financeira, logística ou técnica necessitam de um espaço que Aveiro não tem. Isto é válido também para eventos, congressos, iniciativas desportivas. Acho que é inevitável que surja nos próximos tempos.

Como vê a cultura em Aveiro?
Acho que Aveiro viveu maus anos em termos culturais, mas não só. A cidade viveu tempos de absoluta paralisia porque não tinha liderança, e isso refletiu-se em oitos anos – de 2005 a 2013 quando Élio Maia estava como presidente da Câmara Municipal – em que estagnou e até regrediu. Do ponto de vista cultural também se sentiu, principalmente naquela que é a principal instituição cultural da cidade: o Teatro Aveirense (TA). Felizmente neste momento o TA tem à frente uma pessoa que sabe o que está a fazer, um técnico de elevada competência, dos melhores que há no país e eu sinto que voltou a haver um projeto, uma estratégia. Às vezes podemos não concordar com um projeto, mas ao sabermos que alguém está a fazer um caminho num determinado sentido já é bom, e isso não acontecia no passado. O TA viveu anos em que se deteriorou ao nível da programação, da própria manutenção física, na forma como as equipas estavam mobilizadas para o trabalho. Felizmente agora está numa fase muito melhor.
Voltando novamente ao festival, porque decidiram regressar?
Foi por convite do Teatro Aveirense. Não havia a menor intenção da nossa parte em voltar, era um assunto encerrado.
As gerações que hoje vão estar no festival são diferentes das que estiveram no passado. Isso é um desafio?
Sim, e tem sido difícil. Quando criei o festival o público era essencialmente universitário e hoje sinto que os teatros são muito pouco frequentados pelos jovens universitários. Não é apenas um problema de Aveiro, é geral, e para mim é extremamente preocupante.
Quando o Teatro Aveirense reabriu, antes dessa época tínhamos muito pouca oferta em Aveiro. Desde cedo que fui para Lisboa de comboio ver um concerto e depois tinha de vir a correr para tentar apanhar o comboio da meia noite, caso contrário tinha que ficar a dormir na estação de Santa Apolónia até de manhã.
Que deve ter acontecido…
Sim, aconteceu pelo menos duas vezes (risos). Quando o teatro apareceu foi para nós uma lufada de ar fresco. Existia uma curiosidade em tudo o que aparecia, e quem diz o teatro diz também o cineclube, por exemplo. As sessões de cinema que existiam estavam constantemente lotadas. Hoje em dia, preocupa-me um pouco este afastamento que as novas gerações têm da vida cultural.
Porque acha que isso acontece?
O mundo mudou imenso. Quando eu era miúdo existiam dois canais de televisão e a internet era uma coisa de “extraterrestres”. Em Aveiro haviam duas salas de cinema: o “Oita” e o “2002”. Ao fim de semana ou íamos para o “Oita”, que era o único centro comercial que havia, ao cinema, ou ver o Beira-Mar jogar ao domingo. Hoje em dia, há duzentos canais de televisão, Netfix, Youtube, a internet de banda larga. A velocidade a que as coisas acontecem e a oferta de entretenimento mudou drasticamente, e isso faz com que a nossa necessidade de frequentar um teatro seja menor, apesar do número de espectadores estar a aumentar. A diferença está no tipo de consumo, os festivais neste momento em Portugal são um sucesso, por exemplo. No entanto, a capacidade que as pessoas têm em entrar numa sala de espetáculos, sentar-se, não usar o telemóvel nem fazer Instagram Stories e estarem uma hora e meia concentradas a ver algo, que exige concentração, é menor. Estamos cada vez mais ávidos de um consumo imediato.
E neste caso como pensa conseguir contornar isto?
Nem sei se vou conseguir contornar, não tenho esse poder. Acho que temos de nos adaptar. Neste momento temos muito pouco espaço para o tédio e isso torna-nos mais preguiçosos e muito menos criativos. A necessidade de termos estímulos constantes torna-nos muito mais superficiais. Eu não sei se isso é compatível, é uma dúvida que tenho e a tendência, provavelmente, é para piorar porque este é o caminho que a humanidade tem feito. Acho que neste momento estamos a viver uma fase de um certo deslumbramento com as facilidades que a tecnologia nos traz mas acho que nos vamos cansar rapidamente.
O que podemos esperar este ano do festival. Há alguma coisa que nos possa adiantar?
Não sei ainda. Tenho de me sentar com o José Pina. Acho que temos de dar uma volta ao festival. Sinto que por tudo aquilo que falámos agora temos de repensar o modelo.
É obrigatório ser num espaço fechado?
É isso que temos de repensar. A questão é que o festival decorre em novembro e não há espaços cá em Aveiro, por todas estas razões é que defendo que Aveiro precisa de uma sala multiusos.






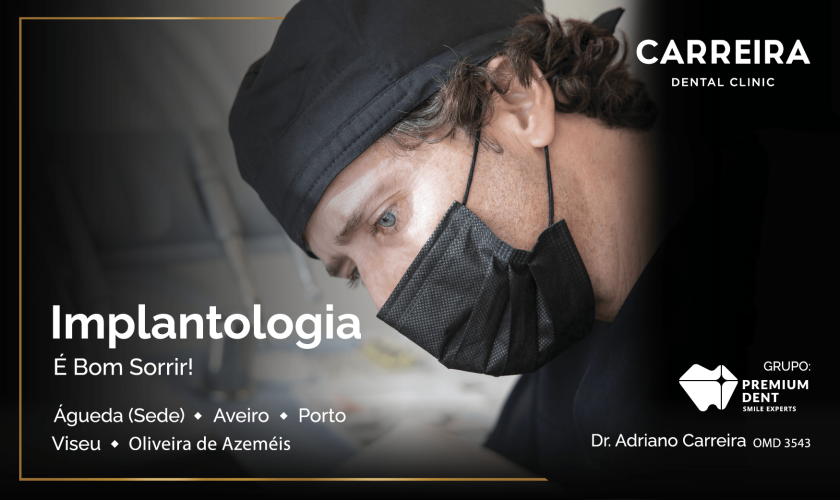









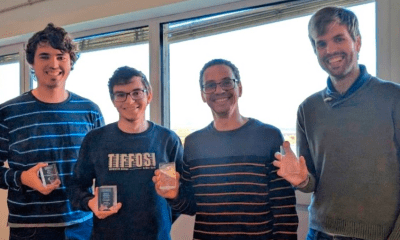




Facebook
Instagram
YouTube
RSS